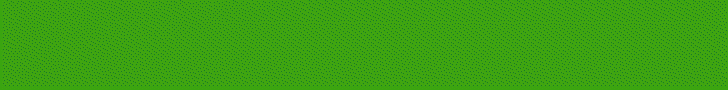Entenda os motivos que fazem uma rua alagar nas grandes cidades
Além da limpeza urbana e de combater o assoreamento dos córregos e rios remanescentes, é preciso achar maneiras de aumentar a permeabilidade dos pavimentos e ampliar ao máximo as áreas verdes que ajudam a "sugar" água naturalmente.

REINALDO JOSÉ LOPES, SP- Não há nada de surpreendente no fato de que várias ruas de São Paulo acabam ficando alagadas quando ocorrem chuvas intensas. Diversos fatores naturais e humanos conspiram para que esse tipo de coisa aconteça, mas o mais decisivo é o processo de expansão da metrópole, o qual, quase sempre, ignorou a dinâmica natural dos rios e da chuva na região.
“A única lei que você poderia revogar para impedir esse tipo de coisa seria a lei da gravidade”, brinca o geógrafo Luiz de Campos Junior, cocriador do projeto Rios e Ruas. “O processo de urbanização foi muito violento com os cursos d’água. Nunca se desenhou um projeto de ocupação urbana que considerasse a presença deles, que respeitasse o regime que eles seguem”, analisa Anderson Nakano, professor do Instituto das Cidades da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo).
A área onde hoje vivem as dezenas de milhões de habitantes da Grande São Paulo originalmente era coberta por uma densa rede de córregos e rios, muitos dos quais, hoje, estão invisíveis, canalizados debaixo do asfalto, ou correndo em leitos artificiais a céu aberto.
Antes da expansão vertiginosa de áreas construídas e pavimentadas a partir do fim do século 19, a população tinha uma preferência natural por ocupar os terrenos perto dos riachos e rios. Eles forneciam água e recursos pesqueiros e facilitavam o transporte, entre outras vantagens. Essa tendência se repete em diversas outras capitais e cidades de médio e pequeno porte Brasil afora, muitas das quais também sofrem com alagamentos hoje.
É aqui que começa a entrar a lei da gravidade, seguindo o raciocínio de Campos Junior. Na época das chuvas, esses rios paulistanos, localizados em vales, naturalmente transbordavam, avançando para os terrenos vizinhos, as chamadas várzeas.
Com terrenos acidentados em volta ainda hoje, ladeiras não faltam na cidade, a água era levada rumo às várzeas, como ainda ocorre hoje. “Essa topografia bastante movimentada, com altos e baixos, tende a fazer com que os cursos d’água que surgem acima da várzea fiquem menores e se encaixem uns nos outros”, explica Anderson Nakano.
Quando havia muito mais espaço entre construções, um predomínio de ruas sem asfalto e uma cidade com apenas 65 mil habitantes era essa a população paulistana em 1890-, o risco de alagamentos catastróficos era muito menor (ainda que não inexistente). A água tinha mais lugares para onde escoar e muito mais solo natural e áreas verdes onde se infiltrar e voltar para o lençol freático.
A situação das últimas décadas é brutalmente diferente disso. “São Paulo, com 12 milhões de habitantes, tem uma das maiores áreas impermeabilizadas contínuas do mundo”, destaca Campos Junior. A impermeabilização, causada principalmente pelas extensões de asfalto e concreto que recobrem o solo da capital de forma quase ininterrupta num raio de dezenas de quilômetros, faz com que a água não tenha como se infiltrar no solo.
Em vez disso, ela desliza por gravidade sempre rumo aos lugares proporcionalmente mais baixos, onde vai acabar se acumulando. As redes de galerias pluviais e os córregos canalizados tendem a jogar com velocidade alta essa água rumo às grandes várzeas do Tietê, do Pinheiros e do Aricanduva hoje ocupadas por vias expressas e prédios. Para piorar a situação, áreas periféricas que até recentemente tinham sua própria rede de cursos d’água acabam sendo ocupadas irregularmente pela população de baixa renda, que tem poucas alternativas de moradia e fica sujeita a alagamentos por lá também. O Jardim Pantanal, na zona leste, entre a capital e Guarulhos, não ganhou esse nome por acaso.
“É baixada, é vale, é margem de rio. Vai encher se não encher ali, vai encher mais abaixo”, sentencia Campos Junior. A crise climática atual tende a agravar a situação no médio e longo prazo, porque eventos extremos, como chuvas muito acima da média histórica, tendem a se tornar mais frequentes. Mas a estrutura urbana que não leva em conta a estrutura natural do terreno e dos cursos d’água é suficiente para causar grandes estragos sem nenhuma ajuda da emergência climática.
“A gente achou que sempre ia encontrar uma solução de engenharia para qualquer problema e confiou demais na tecnologia”, diz o geógrafo. “Quando eu digo que eu quero um plano de enchente, e não de drenagem, o pessoal acha que eu estou tirando sarro. Mas a verdade é essa quando você monta a estrutura para drenagem urbana, você não está mandando aquela água para o Sol ou para Marte. Em algum momento, aquela água vai bater no Tietê.”
Mas a verdade é essa: quando você monta a estrutura para drenagem urbana, você não está mandando aquela água para o Sol ou para Marte. Em algum momento, aquela água vai bater no Tietê
geógrafo e cocriador do projeto Rios e Ruas
Tudo isso significa que qualquer político que se proponha a melhorar o problema construindo dezenas de novos piscinões é desonesto ou mal-informado. Piscinões, por serem imensas caixas de concreto, estão apenas aumentando a área impermeabilizada da metrópole, além de acumularem entulho com facilidade e exigirem limpeza periódica custosa. São, no máximo, paliativos pontuais.
Diminuir o problema de maneiras que não sejam equivalentes a enxugar gelo depende de uma multiplicidade de abordagens. Além da limpeza urbana e de combater o assoreamento dos córregos e rios remanescentes, é preciso achar maneiras de aumentar a permeabilidade dos pavimentos e ampliar ao máximo as áreas verdes que ajudam a “sugar” água naturalmente. Além disso, parques e áreas verdes de condomínios precisam ser projetadas justamente para alagar e absorver esse excesso.
O lago do Ibirapuera, por exemplo, é muito mais útil, no longo prazo, do que qualquer piscinão, mas já está chegando perto de seu limite de absorção. Seria possível elevar as margens dele para manter essa capacidade.
“As grandes empreiteiras não têm cultura de engenharia verde, de apostar nas chamadas SBN, ou soluções baseadas na natureza. Mas elas precisam se adaptar”, afirma o geógrafo.